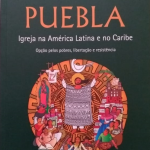(Texto Publicado originalmente no Site da Revista Carta Capital, na coluna Diálogos da Fé, em 27/02/19).
Em apenas duas semanas de fevereiro, o racismo no Brasil ganhou o noticiário e muitas postagens em mídias sociais. No caso mais divulgado, no dia 14, o jovem negro Pedro Gonzaga foi morto por asfixia em um supermercado, após ser imobilizado por um segurança, por conta de uma “atitude suspeita”. Um dia antes, a jovem negra Bruna Ribeiro comprou um caderno de desenho, no valor de 6,50 reais. Após pagar a conta, saiu da loja com o caderno nas mãos (fora da sacola), e foi puxada à força por um segurança que gritava para que ela devolvesse o caderno que roubou. Após comprovar a compra, a fiscal pediu para Bruna se acalmar, que “o segurança só estava fazendo o trabalho dele”, e que, às vezes, “isso acontece”.
A deputada federal negra Talíria Petrone (PSOL-RJ) relatou em mídias sociais, em 19 de fevereiro, sua dificuldade de transitar na Câmara dos Deputados. Em seu primeiro mandato na Casa, desde sua posse no dia 1º, tem sido abordada diariamente para identificação, mesmo usando o broche parlamentar.
Estes casos se somam a uma infinidade de outros em nosso País. Os leitores deste artigo devem recordar de outras situações. Quem é branco nunca saberá o que significa um olhar de suspeita lançado por conta da cor da pele. Nunca experimentará a dor da humilhação e da segregação imposta por revistas, impedimentos e acusações promovidas por seguranças e policiais, por porteiros de prédios e atendentes de lojas, por contratantes de vagas de trabalho que exigem “boa aparência”, por gente comum que profere as mais diversas injúrias em público.
Isto não é novo. Escondido sob o ideal da democracia racial e da cultura da miscigenação, o racismo no Brasil só foi admitido oficialmente e considerado crime em 1951, com a aprovação da Lei Afonso Arinos (nº 1390/51), que passou a incluir entre as contravenções penais os atos resultantes de preconceito de raça e cor da pele.
Este direito foi aprofundado pela Constituição Cidadã de 1988, que afirma que todos são iguais sem discriminação de qualquer natureza e tornou inafiançável e imprescritível o crime de racismo.
Com isso, foi aprovada em 1989 a Lei Caó (nº 7716/89) que define como crime o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, e tipifica o crime.
Diante da possibilidade das denúncias e de condenações, o racismo tornou-se mais visível. O que é novo são os casos crescentes, com o clima de intolerância e de ódio ao diferente, especialmente promovido na internet.
Este clima fez emergir políticos de extrema-direita (na verdade, uma tendência internacional), como o presidente da República eleito em 2018, que, em campanha, amplificaram o discurso e as práticas de intolerância extrema. Agora no poder, estes políticos credenciam o racismo e a xenofobia e ameaçam direitos conquistados a duras penas pela população negra, indígena e imigrante.
Tudo isto é uma ofensa à fé cristã, declara o Conselho Mundial de Igrejas. O CMI é uma organização ecumênica de 70 anos, que reúne 350 igrejas-membros, evangélicas e ortodoxas de todos os continentes, além de grupos observadores como a Igreja Católica Romana e organizações cristãs relacionadas a diversas frentes de ação em diferentes regiões.
Com base na leitura dos textos da Bíblia e de posicionamentos teológicos das igrejas associadas, o CMI declarou o racismo um pecado (aquilo que atenta contra os preceitos cristãos) e sua justificativa teológica uma heresia. Nesse sentido, a prática do racismo tem que ser admita nas próprias igrejas, o que requer confissão, arrependimento e transformação.
Este discurso tornou-se ação no CMI com a criação do Programa de Combate ao Racismo, em 1968. Naquele ano, o pastor batista Martin Luther King, líder cristão do movimento pelos direitos civis nos EUA, deveria ser um dos conferencistas da 4ª Assembleia do CMI, em Uppsala (Suécia), mas foi assassinado antes disso. A Assembleia de Uppsala concluiu: “O racismo é uma ideologia branca e está ligado à exploração econômica e política” e decidiu que as igrejas associadas “embarcariam numa vigorosa campanha contra o racismo e todas as suas formas”.
As igrejas têm atuado em muitas frentes e tiveram, inclusive, fundamental participação na superação da política do apartheid na África do Sul. Nas últimas décadas, a ênfase da organização tem sido a justiça transformadora. As igrejas são demandadas a continuar sua solidariedade concreta e a enfrentarem o seu próprio racismo.
Isto implica que igrejas devem lidar com a verdade da vida e os erros da morte que elas próprias perpetuaram no passado contra povos racial e etnicamente oprimidos. É um chamado para se buscar e revelar as realidades do racismo do passado e do presente na forma de assimilação de políticas, mitos de superioridade, desrespeito à diversidade de culturas e identidades e desrespeito ao meio ambiente.
O desafio continua intenso e estará presente no tema da 11ª Assembleia do CMI (Karlsruhe, Alemanha, 2021): “O amor de Deus move o mundo para a unidade e a reconciliação”.
Que os cristãos e cristãs brasileiros deem este passo adiante e enfrentem o pecado do racismo e as ameaças presentes aos direitos por igualdade, duramente conquistados nestes 519 anos de Brasil. Só assim poderão alcançar o amor de Deus que tanto proclamam defender.
Magali do Nascimento Cunha Jornalista e doutora em Ciências da Comunicação. É colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas.