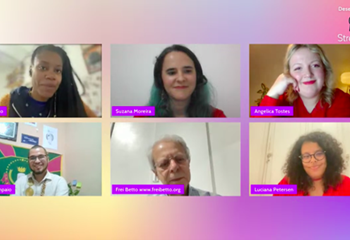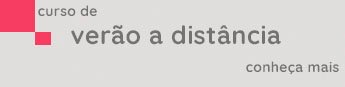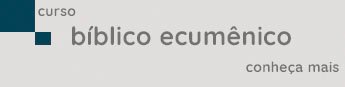Introdução

“Sensus Fidelium” e “Sensus Fidei”
“Sensus Fidelium” (senso dos fiéis). A expressão sugere senso, sentido, intuição, sentimento, instinto… Expressão quase equivalente a “sensus fidei” (senso da fé). Os fiéis, naturalmente, não são tomados como simples indivíduos, mas como pessoas em relações umas com as outras, enquanto povo organizado, e, assim, constituindo-se coletivamente como membros do amplo corpo da Igreja. É comum, então, traduzir por “consenso dos fiéis”. Trata-se da maneira como o povo cristão manifesta seu “consenso” em relação à mensagem das Santas Escrituras, vivida e interpretada no curso da Tradição histórica. A Igreja crê que o povo cristão é dotado de um “instinto” que lhe advém de certa conaturalidade com o Espirito de Deus, o qual o ilumina acerca do que, em matéria de fé e prática, é coerente com a perspectiva do Evangelho. Em outras palavras, o “sensus fidelium” é manifestação concreta, histórica, nas circunstâncias de cada época, do “sensus fidei”.
Sem dúvida, é realidade muito complexa. Como se pode facilmente supor, o “consenso” não se forma instantaneamente, mas ao longo da história; passa através do diálogo e, eventualmente, de conflitos dentro da Igreja, forma-se em tempos longos. Sofre influência do curso do tempo; de acontecimentos particularmente significativos, como, por exemplo, a formulação da fé cristã na cultura greco-romana; o reconhecimento do Império Romano à Igreja cristã; a queda do Império por ocasião das invasões dos povos (chamados “bárbaros”) do Norte da Europa; os tensos conflitos políticos entre Roma e Constantinopla; as grandes viagens oceânicas que possibilitaram à Europa invadir, saquear e “colonizar” os demais continentes; a revolução da burguesia, entre os séculos XIV a XVII, que teve sua feição eclesial na Reforma Protestante; a revolução científica dos tempos modernos e a revolução industrial; o imperialismo financeiro dos tempos atuais e a gravíssima crise ecológica por que passa a terra inteira; a radical transformação cultural que estamos a atravessar em nossos dias… Tudo vai afetando a vivência dos povos, marca seus valores culturais (e religiosos), provoca regressões e evolução, revisão da compreensão do mundo, e eventuais correções na maneira de compreender a realidade, incluindo as relações entre Natureza e cultura. Sem dúvida, são inevitáveis as repercussões sobre o modo de interpretar e formular a mensagem da fé e da prática fiel à Palavra de Deus. O que tem de ser muito claro é que essas inevitáveis reformulações não podem ficar a cargo de indivíduos “iluminados”, nem de pequenos grupos ou de Igrejas particulares. Doutro lado, não equivalem a chegar à unanimidade, mas é preciso que manifestem ampla convergência do corpo total da Igreja cristã em relação ao que é fundamental e base da fé.
“Sensus fidei” e “sensus fidelium” são noções antigas e radicalmente “catholicas”, enquanto se referem ao “profundo instinto de crer” e à expressão do “consenso da fé” que se elabora como processo coletivo e universal. O Anglicanismo o tem recebido como dimensão fundamental de sua identidade “católica”. Embora a “Comunhão Anglicana” seja formada por Igrejas autônomas, reunidas por “laços de afeto e lealdade”, não pretende ser simples “federação” de entidades paralelas, mas uma “comunhão” de Igrejas vinculadas por relação simultânea de “autonomia e interdependência”. Nosso grande teólogo Richard Hooker, do século XVII, ao propor o método de elaboração da Teologia ou Doutrina, ajudou a perceber com clareza quais os elementos, ou melhor, as dimensões que estão implicadas na formação do “sensus fidelium”.
Antes de tudo, vem a mensagem da Bíblia. É verdade que esta não traz inequivocamente a “pura Palavra de Deus”, ou o “puro Evangelho”, conforme a expressão de Lutero. De fato, as Escrituras são o testemunho clássico da experiência da Palavra de Deus, mas na história de um povo particular e transmitida mediante palavras humanas. Portanto, Palavra de Deus encarnada em formas humanas de compreensão e expressão, evidentemente limitadas, como tudo o que é humano. A experiência da revelação transcendente de Deus passa, necessariamente, pela experiência humana do povo de Deus. As Escrituras sempre foram abordadas pela Igreja como contendo um mistério semelhante ao da encarnação de Jesus (cf. Hb 4, 14-15): mesmo ao transmitirem a Palavra eterna de Deus, esta nos chega mediante textos humanos, vem envolvida em formas contingentes, marcadas pela “carnalidade” do tempo da história. São necessariamente “parciais”, expressam conflitos econômicos, políticos, socioculturais, tomam partido por projetos históricos em confronto, manifestam diferenças e evolução de pontos de vista, há inclusive textos que corrigem outros anteriores, são uma longa pedagogia divina na história… Daí, Hooker, no veio da compreensão católica, testemunhada pelos Pais da Igreja e pelo próprio Lutero, nos indica que não se pode interpretar os textos isoladamente, mas em relação com o conjunto das Escrituras e enquanto nos dirigem a Cristo, ou seja, a Bíblia tem de ser interpretada com o auxílio da Tradição vivida e transmitida na Igreja, pois o critério último é vivo, Jesus, o Cristo e Suas testemunhas (cf. 2Cor 3).
Por um lado, a Bíblia autentica a Tradição, por ser o testemunho escrito e documental dos acontecimentos fundantes da experiência da fé. Pensemos, por exemplo, na tradição do Êxodo; no genial evento extraordinário da Profecia; na experiência do Exílio em Babilônia, com a nova experiência de Deus e a compreensão de Sua unidade e universalidade; em Jesus e no surgimento da comunidade apostólica que O seguiu e deu testemunho de Sua missão… Doutro lado, é no fluxo da Tradição que a Escritura é reconhecida e recebida, e reiteradamente interpretada. Assim, a Bíblia documenta a etapa “fontal”, originária, e, simultaneamente, mediante a Tradição viva, se faz atual e até como que se amplia e nos pode falar ainda hoje e agora.
Em íntima relação com o conceito de Tradição, está a Razão, pois esta nada mais é que um dos elementos que contribui para manter a Bíblia e a Tradição em diálogo com a inteligência humana, “fides quaerens intellectum” (a fé em busca de compreender), como dizia Santo Anselmo, monge e arcebispo de Cantuária no século X. A Razão ajuda a conferir lucidez à interpretação tradicional das Escrituras. Ao manter-se atenta à dimensão da “racionalidade”, ou melhor, de razoabilidade, a Tradição, ou seja, a vida do povo de Deus na história, se deixa interpelar pelos desafios da sociedade humana em cada tempo e acolhe a contribuição da Ciência e da evolução cultural. Por isso, é possível garantir que a Tradição não se degrade ao nível de “crendice” ou de fanatismo religioso, o chamado “fundamentalismo”.
Finalmente, na esteira do pensamento de Hooker, ressalta-se a função da Experiência de vida, da experiência viva da fé, da vivência do quotidiano do povo cristão, com suas batalhas e lutas, acertos e enganos. O “calendário cristão” anual, no Livro de Oração Comum, aponta justamente para isto: a celebração reiterada do Mistério de Cristo (as lições da Bíblia como escuta da Palavra e a vivência dos Sacramentos) em nossa vida quotidiana, o testemunho e modelo de vida de santos e santas, e a oração como processo de assimilação da santidade de Deus. De fato, trata-se de mais um aspecto da Tradição, pois esta nada mais é que transmissão da experiência de vida do povo cristão na história, e “vida” inclui o sentir e o pensar, e a prática fiel do povo de Deus na história (Pode ser útil consultar o artigo que escrevi como releitura ecumênica da Constituição sobre a Divina Revelação, do Concílio Vaticano II, neste mesmo blog).
É desse complexo processo da Experiência, ao mesmo tempo, vital e de compreensão da vida e da história, que, ao longo do tempo, se vai elaborando o “sensus fidelium” enquanto releitura da Bíblia a partir da vida, em íntima ligação com a Tradição e a Razão. É esse fio condutor que garante, ao longo da história, a unidade e a continuidade da Igreja. O “sensus fidei” não se alcança a depender de pessoas ou grupos “carismáticos”, “entusiastas” ou “iluminados”… Se assim fosse, correríamos permanentemente o risco da ruptura e do cisma. O mundo evangélico atual é um exemplo triste, palpável e eloquente desse problema. Quase cada pastor se julga suficientemente autorizado por seu próprio “espírito santo” a proclamar dogmaticamente sua própria visão do “depósito da fé”. Disso resulta o absurdo (e em certos casos vergonhoso) divisionismo a que assistimos hoje, com quase cada Igreja a proclamar sua peculiar doutrina.
A Catolicidade da Igreja
O que é a catolicidade da Igreja, uma de suas “notas” tradicionais, junto com a santidade, a unidade e a apostolicidade? Frequentemente, essa nota é entendida como se todas as pessoas e todos os povos devessem tornar-se membros pertencentes à Igreja cristã histórica. Ora, a história já o demonstrou sobejamente o quanto essa compreensão é equivocada. Na Cristandade medieval, por exemplo, toda a Europa era a Igreja. Quando isso acontece, as exigências do discipulado de Jesus caem por terra e o que resta é só o “verniz” religioso. Além disso, em nome da Verdade única e exclusiva, matam-se “hereges” (quem discorda do sistema vigente), as “bruxas” (mulheres com capacidade de liderança), os judeus e os islâmicos (outros povos concorrentes), católicos e protestantes se matam entre si em “guerras de religião”(em boa parte disputas de territórios e de poder político), subjugam-se países de mais antiga civilização e religiões asiáticas tidas como “politeístas” (Induísmo, Budismo, etc), exterminam-se povos aborígenes em nosso continente e africanos, tidos como não humanos e bárbaros pagãos… Verdade “exclusiva” é sempre sinônimo dos interesses de quem a impõe aos demais. A imposição da “força da razão”, chamada de Verdade, o que esconde é a imposição da “razão da força”. Já nos séculos III e IV, o Monaquismo, que surgia no deserto, e o Montanismo, apesar de seus exageros, protestavam contra a assimilação da Igreja à mentalidade e aos costumes do “mundo”, a saber, da sociedade e do sistema do Império (hoje convivemos debaixo do peso de padrões da sociedade e do Império norteamericano).
Não é o que vemos no comportamento de Jesus. Nos evangelhos há uma permanente dialética entre o grupo do discipulado e a grande massa do povo. O Profeta de Nazaré, decerto, não é um mestre esotérico que ensina e treina secretamente discípulos(as) e seguidores(as). Fala publicamente, dialoga com o povo em espaços públicos (cf. Jo 18, 20-21). Do povo se aproxima para socorrê-lo em suas dores e indicar-lhe novos caminhos de vida, e desmascara a alienação em que as pessoas jazem prostradas. Os evangelhos não registram um só caso em que Jesus tenha convidado alguém a mudar de religião, só nos falam de convite a mudar radicalmente de vida. Ao lado, porém, dessa relação com “os de fora” (cf. Mc 4), que devem ser tocados e curados (“cuidados”) em praça pública (cf. Mt 10, 8-10; Lc 10, 8-9) pelos valores salvíficos da Boa Nova, Jesus constitui Sua própria “casa” (cf. Mc 1, 16-20. 29-31; 3, 13-19), o grupo de discípulos e discípulas, que têm acesso a Sua intimidade, “os de dentro”(cf. Mc 4, 10-12) com quem compartilha a comunhão na missão e no destino, e espera, estejam dispostos a opções radicais como as Suas (cf. Mc 8, 31-38; 9, 30-37; 10, 32-45).
Além disso, cada vez se torna mais claro que a mensagem da Boa Nova não pode ser patrimônio restrito à “religião cristã”. É mensagem universal, destinada a todos os povos da terra, pois equivale à nova proposta de vida, o “xalôm”, a felicidade universal, sonhada pela profecia bíblica, e cujo caminho é a profunda reviravolta na maneira de compreender e praticar os dois dinamismos radicais do ser humano, a saber, o poder (relações inter-humanas) e a posse das coisas, convertendo-se o poder, de opressão em serviço recíproco, e a posse em partilha dos bens (cf. Mc 8, 27-10,52), de tal forma que haja dignidade para todas as pessoas e a “eco-nomia” (lei da casa) se deixe guiar pela “eco-logia” (lógica da casa: cf. Mt 6, 19-34)) e, assim, todas as pessoas e os povos possam ter direito a “permanecer na casa”, o que é justamente a noção de “ecu-menismo” (permanecer na “casa comum”).
A Igreja cristã não está chamada a ser uma “religião” a mais entre tantas que já existem. Religião é criação humana, a partir da intuição do Mistério como fonte da vida, é busca de segurança pessoal e de legitimação de nossos sistemas de convivência (economia, relações sociais, poder político) e de valores. A partir dessa base, se constitui também em instituição e, facilmente, degenera em ideologia justificadora de sistemas vigentes, tidos como “aprovados” por Deus. Também o Cristianismo histórico cai sob essa designação de “sistema religioso”, mas isto não equivale ao que deve ser a Igreja de Cristo. “Ecclesía”, palavra grega que dá origem ao termo “Igreja”, significa na linguagem de São Paulo “assembleia” alternativa ao sistema estabelecido nas cidades gregas e romanas. Ali quem tinha o poder eram os machos, ricos (proprietários), considerados os “melhores” (aristocracia) para governar. Nas “casas” começava a existir uma assembleia alternativa, onde também as mulheres, as pessoas escravas e as crianças tinham lugar, gente pobre e gente menos pobre se consideravam irmãos e irmãs (cf. Rm 12, 1-2; 1Cor 1-4). Viver dessa nova maneira se tornava profecia a chamar a atenção para a prática do amor fraterno que se revela no serviço recíproco e na partilha de bens, era o Caminho revelado por Jesus como “salvação” (cf. 1Cor 12-14), para além de fronteiras, “internacionalista” (cf. Ef 2).
Para nós, o “conteúdo” é a fé, ou seja, a leitura correta da prática de Jesus e a coragem de optar por seguir Seu caminho. Fé e religião se tocam em sua origem, enquanto ambas partem da intuição do Mistério. Para nós, porém, “religião” é “linguagem”, meio de comunicação com a humanidade que até hoje tem sido sempre religiosa. Não é, porém, o conteúdo da mensagem. “A Bíblia é um livro religioso, não é porém um livro de religião” (Carlos Cunha, Pastor presbiteriano, já falecido). É testemunho e proposta de vida (cf. 2Cor 5, 16-21). Assim, a religião pode muito bem, embora não necessariamente, ser instrumento de comunicação, de vivência mística e de expressão da fé; no entanto, se tomada por si mesma, facilmente degenera em idolatria, espelho e “imagem” narcisista a refletir nosso próprio rosto (cf. Is 1; Am 5, 21-27; Sb 13ss; Mc 12, 38-44).
Dizer que a catolicidade é marca essencial da Igreja não quer dizer que todas as pessoas e todos os povos devam fazer parte da Igreja, o que já vimos, seria um desastre para a missão de anúncio do Evangelho, e a história o tem mostrado claramente. Trata-se de outra coisa: é dizer que em cada comunidade de fé, por mais pequena que seja, anunciamos, celebramos e buscamos vivenciar aquele mesmo mistério de salvação (Amor) universal que Deus está a operar, mediante Seu Espírito, de variadas maneiras, no mundo inteiro. O termo “católico” vem da expressão grega “kath(a)-hólou” que quer dizer “conforme o todo”, “em referência à totalidade”, “universal”. Na Igreja foi tomado desde a Antiguidade no sentido de referir cada Igreja local à totalidade da Igreja. Cada Igreja local é a Igreja “toda” (universal) pela presença do mesmo mistério salvífico de Deus, mas não é a Igreja “totalmente”, pois cada Igreja local só recebe sua plena identidade a partir da referência ao conjunto da Igreja, conjunto que, por sua vez, se refere à universalidade da ação de Deus no mundo. É neste sentido que se fala de “comunhão católica”; no Anglicanismo se diz “autonomia e interdependência”. Em outras palavras: a Igreja acontece aqui e agora enquanto comunidade local que anuncia, celebra e vivencia o Mistério universal da salvação do mundo, em comunhão com todas as outras comunidades. Assim, cada Igreja tem a ver com a Igreja toda e toda a Igreja tem a ver com o mundo universo. É isto o que nos faz “catholicos(as)”.
“Indaba” e “Casa dos Homens”
Em 1998 participei da assessoria à Conferência de Lambeth. É quando, de dez em dez anos, se reúnem bispos e bispas anglicanos do mundo todo. Naquele tempo eram em torno de 600 os membros do episcopado. Em 2008 já eram cerca de 800, embora se tenham reunido pouco mais de 600, porque quase duzentos se negaram a aceitar a convocação do Arcebispo de Cantuária, que tem a prerrogativa de convidar. Trata-se de um quase-concílio de toda a Igreja representada por seus bispos ou bispas. Digo “quase” porque a assembleia não pode tomar decisões ou legislar para as províncias, já que o Anglicanismo é uma comunhão de Igrejas autônomas unidas por “vínculos de afeto e lealdade mútua”. De qualquer forma, é ocasião privilegiada para testar o consenso da Igreja, o “sensus fidelium”, e exortar o conjunto do povo anglicano.
Em 1998, os membros da grande assembleia foram divididos em grupos de mais ou menos 200 bispos(as). Eram os “plenários temáticos”. O nosso tratava sobre Evangelização. Aí estive como membro da equipe de assessoria, convidado oficialmente pelo Arcebispo de Cantuária, por indicação dos bispos do Brasil. Éramos umas cinco pessoas, incluindo uma teóloga presbiteriana da Escócia. Cada plenário discutia, emendava ou rejeitava o que estava contido num “documentado de trabalho”, preparado previamente pelas comissões organizadoras da Conferência. Tive a alegria de ver acolhidas pelos bispos várias propostas minhas, que apresentava, naturalmente, em nome de nossa Igreja afroameríndia, pois minha credencial ia além do Brasil. O sistema era o clássico parlamentar: recebia-se o “documento de trabalho”, discutia-se, emendava-se, corrigia-se, votava-se em plenária dos duzentos e assim era levado ao plenário de toda a Conferência, aí se dava uma discussão mais breve e a votação final por maioria. Uma vez aprovado, o documento destinava-se, então, a toda a Comunhão Anglicana, com caráter de “recomendação” e instrumento de reflexão para as Igrejas anglicanas.
Em 2008, eu já participava da Conferência como bispo. A Comunhão Anglicana vivia acesa tensão em torno do debate do tema da sexualidade humana. O Arcebispo Rowan Williams, preocupado com a unidade da Igreja, com sabedoria, evitou o método parlamentar, pois nas votações haveria, naturalmente, “vencedores” e “vencidos”, ainda que por poucos votos, o que agravaria ainda mais a tensão. Resolveu introduzir um método africano, chamado “indaba”. Ao receber o anúncio, pensei comigo: “Vitória do colonizado!”, a África, conquistada, humilhada e escravizada pelo Ocidente agora nos emprestava seu jeito de fazer e nos salvava do desastre da divisão. “Indaba”, explicavam-nos, é o jeito de resolver as dificuldades na aldeia. Não se procede por votação, é algo humanamente bem mais maduro: a aldeia se reúne e leva adiante a discussão dos problemas por horas inteiras, noite a dentro, até a madrugada, se for preciso, em busca de consenso. Não se trata de chegar, necessariamente, à unanimidade, mas ao consenso, todos chegarem a determinada solução. E assim aconteceu em Lambeth: fomos repartidos em grupos de uns sessenta e, depois de uma hora e meia de estudo bíblico diário, em pequenos grupos de oito, reuníamo-nos todos(as) – os sessenta — e discutia-se o tema do dia, quando todos(as) tínhamos o direito de dizer tudo e o dever de escutar a todos(as). Dessa maneira, muitas tensões se desfaziam, equívocos se esclareciam, irmãos conseguiam compreender melhor as razões de outrem e, à tardinha celebrávamos a Santa Eucaristia e fazíamos a experiência da unidade que se buscava reconstruir cada dia. Foi difícil, mas foi bonito.
Interessante que, nestes últimos anos, indo ao Mato Grosso, para colaborar com a Prelazia de São Félix do Araguaia, fiquei sabendo que nas aldeias indígenas tem a “casa dos homens”, onde se reúnem para processo semelhante de discussão e solução dos problemas da tribo. Um aspecto importante é que só os homens participam das reuniões da “casa”, mas acabada a reunião voltam a suas moradias e conversam com as mulheres e, de vez em quando, há um fato curioso: depois de conversar com as mulheres a decisão pode ainda mudar totalmente, pois a opinião das mulheres pode provocar nova reunião dos homens e a decisão final, várias vezes, chega a ser completamente diferente. Não há votações, o que há é muita conversa, muita discussão até chegar ao consenso.
Esses dois exemplos têm tudo a ver com o processo de formação do “sensus fidelium”. É dessa maneira que ao longo dos séculos, mediante o diálogo, o debate, e mesmo o conflito, o povo cristão vai elaborando o seu consenso acerca da maneira como expressar o que crê. É como diz muito bem o Papa Francisco, em entrevista ao jornal “El País”: “Todos têm o direito de discutir, e quem dera discutíssemos mais, porque isso nos burila, nos irmana. A discussão irmana muito. A discussão com bom sangue, não com a calúnia e tudo isso…”
Seria muito bom se a Igreja adotasse o método de esgotar a discussão comum até chegar ao consenso e abandonasse o clássico método parlamentar ocidental, segundo o qual restrita margem de maioria consegue “ganhar”. Segundo os cânones, por exemplo, bastam 50% mais um voto para decidir em eleição a bispo. Ora, o teor do cânon já revela a aceitação de um fracasso: o eleito sai vitorioso por apenas um voto, aceitando-se que a outra metade da Igreja tenha dito não. No caso, o bispo ou bispa que é o sinal da unidade da Igreja, já é escolhido(a) num ato de dilaceramento. Na Diocese Anglicana do Recife, já tivemos eleição assim e depois foi um desastre… o que aliás, temos visto em momento recente em mais três dioceses. Não é por decisão “parlamentar” que se manifesta o “sensus fidelium”, mas pelo difícil caminho da busca de consenso que se constrói devagar, por tempos longos e “muita discussão”…
A propósito, parece que, às vezes, o método “indaba” tem sido, equivocadamente, assumido como equivalente a “seminário” ou “reunião” de estudo de algum tema. “Indaba” não é qualquer encontro para discussão coletiva, sobretudo quando se convoca quem já pensa de maneira parecida, ambiente em que já se parte do consenso e apenas se ajustam detalhes. Não, trata-se de esforçar-se honestamente para construir consenso, mesmo que não se chegue a unanimidade. Quando se falava de realizar “sínodo”, lembro-me de que escrevi insistindo em que, mais que sínodo, precisamos é de provocar um “processo sinodal” que durasse anos, de tal forma que grandes questões da Igreja fossem discutidas e equacionadas com tempo e com o máximo de participação de toda a Igreja, de todo o povo das comunidades e não só de “representantes” diocesanos, pois sabemos por experiência como tem sido precária essa tal “representatividade” e como não é tão raro deparar-se com mecanismos de pressão, de intimidação e até de manipulação…
“Sensus fidelium”, garantia de unidade e continuidade da Igreja
A Igreja é essencialmente comunhão, “substância católica”, dizia o teólogo luterano alemão Paul Tillich. Em nosso caso, é sugestivo que o Anglicanismo se intitule explicitamente “Comunhão Anglicana”. Não somos apenas um ajuntamento de Igrejas “independentes” quanto a fé e prática. Não somos nem mesmo uma “federação” com apenas alguns vínculos e mecanismos comuns. Antes, somos “comunhão” de Igrejas locais “autônomas”, porém “interdependentes”, e todas com “vínculos de afeto e lealdade” com a Sé de Cantuária e entre si. Isto, porque temos o senso de “catolicidade”. Cada Igreja não pode correr sua própria “carreira solo”. Anunciamos, celebramos e buscamos viver o mesmo Mistério universal da Salvação que se manifesta mediante o “sensus fidelium”, fundado no “sensus fidei”, instinto da fé que nos vem da familiaridade profunda com o Espírito Santo. Temos (ou deveríamos ter) a experiência profunda da mesma fé e da mesma prática salvífica. É esse “instinto” da mesma fé que nos garante o consenso e este consenso (“sensus fidelium”) é a garantia de continuidade da Igreja una, santa, católica e apostólica. Não são pessoas “carismáticas”, ou “iluminadas” que têm o ministério de definir a maneira de crer, nem mesmo pastores(as) e bispos(as) têm essa tarefa. Na verdade, é o povo cristão, são as comunidades que no mundo inteiro guardam a fé e a proclamam. Pastores(as) e teólogos(as) são “servidores da Palavra” e, como tais, encarregados(as) de contribuir, de maneira particular, na elaboração do “sensus fidelium”, não de seu próprio “sensus”. Cada Igreja particular/local é, sem dúvida, chamada a enfrentar os desafios que se levantam a cada tempo, mas sempre sob o regime de “autonomia e interdependência”, espinhoso caminho, lenta e acidentada marcha, mas o único que garante a comunhão e a unidade. Quem é chamado a manifestar a fé, pela proclamação da doutrina da Igreja, é o povo cristão em seu conjunto, coletivamente, universalmente. Nenhuma Igreja local pode se arrogar o direito de definir a doutrina e a prática da fé, pois estas são tesouros comuns de que cada comunidade participa. Se há algo a reinterpretar, dizer de nova maneira, corrigir até, terá de ser o resultado de muita consulta, paciente escuta, estudo e aprofundamento, discussão, debate e diálogo incansável, além de oração e persistente meditação, espécie de processo universal de “indaba”. Por isso, cunhou-se na Antiguidade a seguinte definição de “sensus fidelium”: “Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus” ( o que “sempre, em toda parte, por todos(as)” tem sido aceito na Igreja). Cada comunidade particular está vinculada por sua relação e referência ao conjunto da catolicidade. Decisões isoladas ferem a unidade católica e arriscam pôr a Igreja local em situação de heresia ou de cisma.
Sem dúvida, há determinados momentos históricos que são particularmente decisivos enquanto provocam novos conceitos, valores, representações. São aqueles momentos de crise quando imagens e concepções antigas e vigentes são abandonadas por outras que parecem mais adequadas enquanto mediações para compreender a realidade do mundo, da vida e da convivência humana. É claro que isto atinge a Igreja e, consequentemente, o “sensus fidelium”. E pode até conduzir a perceber de maneira renovada o “sensus fidei”. Pensemos, por exemplo, na nova compreensão do pluralismo religioso; na percepção da centralidade da opção pelos pobres e da ação política para a vivência da fé cristã; na maneira como se percebe hoje a relação entre Natureza (determinismo) e cultura (liberdade) e, por consequência, novos aspectos de compreensão da sexualidade; na importância que adquire a “práxis” como categoria central para encarar a vida humana, articulação da ação (prática) e da reflexão (teoria), na qual a prática do amor tem absoluta precedência sobre a “confissão” da reta doutrina…
A partir de novos fermentos como esses é que se dá a chamada “evolução do dogma”, expressão do Cardeal Henri Newman, a partir de sua herança anglicana, e o Papa João XXIII no Concílio Vaticano II, expressou praticamente o mesmo conceito ao reconhecer que a mesma verdade da fé do Evangelho deve ser proclamada com novas categorias inteligíveis à cultura do mundo e da sociedade de hoje. Só que qualquer mudança na compreensão da fé e da prática, e sua formulação tem que ter o conjunto do povo cristão como sujeito, a saber, o conjunto das comunidades da Igreja universal, cada parte referindo-se ao todo, de acordo com o regime da “catolicidade”.
Um caso que nos faz pensar
Não nos esqueçamos do que nos dizem historiadores ao tratar da crise do Arianismo que abalou a Igreja no século IV. Era forte no Império Romano a ideologia da divindade do imperador. Augusto já fora proclamado “divus” (divino), mereceu até altares em sua honra e era chamado com títulos como “senhor” (kýrios), “salvador” (sõtér), daí a sutil polêmica do evangelho segundo Lucas no capítulo 2º, ao atribuir esses títulos a Jesus. O que se insinua, de fato, é que quem é “ungido” (christós), senhor e salvador é Jesus, não o imperador romano que dominava o país e não passava de ser humano. Com o imperador Diocleciano chegou-se a estabelecer real e amplamente o culto ao imperador e universalizou-se a perseguição a quem se recusasse a adorá-lo.
O imperador Constantino, naturalmente, influenciado por essa ideologia, aderiu com fervor à heresia defendida por Ario, um clérigo da Igreja de Alexandria, no Egito. Dizia que Deus é um só, por isso Jesus não podia ser considerado Filho de Deus, apenas a mais perfeita e mais sublime criatura, equivalente ao que a Bíblia chama de Sabedoria divina personificada, “espelho exemplar” a partir do qual Deus criou todas as coisas. A perseguição tinha sido encerrada e o imperador favorecia a Igreja com especiais privilégios, fazendo dela sua nova base de apoio popular. A grande parte do episcopado pareceu razoável aquela síntese entre a ideologia imperial e a fé cristã, afinal Jesus continuava exaltado acima de todas as criaturas, permanecia o ser mais próximo de Deus. Afinal, a “conversão” do imperador (embora não tivesse buscado o batismo) podia mesmo ser interpretada como magno sinal divino: “Neste sinal (da Cruz) vencerás”. E seus efeitos eram palpáveis na benevolência e favorecimento para com a Igreja. Santo Atanásio, porém, patriarca de Alexandria, percebia bem as entrelinhas do Arianismo “subordinacionista” que declarava Jesus inferior a Deus. Apesar da perseguição e do exílio, entrou em luta aberta com o imperador e a corrente de bispos com ele aliados. Percebia, e isso expressou em documentos de denúncia, que, se Jesus não era Deus, “da mesma substância do Pai”, Constantino, imperador divinizado, se tornava a última palavra e não podia ser contestado, seria o “kýrios”, senhor absoluto na terra. Dizem os historiadores que, até nos mercados e em termas de Roma, se discutia Teologia, o que se entende perfeitamente naquele contexto, em que estava em jogo a tentativa de absolutismo imperial.
Esse é um fato eloquente para percebermos que a relevância da Igreja na sociedade se dá sempre mediante questões que tenham a ver com a vida do povo, quer se trate da dimensão econômica, das relações sociais e políticas ou de valores culturais. Foi isso o que fez convocar os grandes “concílios ecumênicos” da Antiguidade, para definir a doutrina cristológica e trinitária. E, enquanto boa parte do episcopado era simpatizante da heresia ariana, e via nas benesses e privilégios, concedidos pelo imperador, sinais da benevolência divina para a expansão da Igreja, que tornavam aceitável sua ideologia, foram as comunidades do povo cristão quem garantiu a fé da Igreja, a saber, o “sensus fidelium”, sob a liderança de corajosos bispos, como Atanásio, que resistiam e permaneciam fiéis à herança dos “mártires”. Quando se escreviam as narrações de martírio, era costume apor a data no final da “ata” e fazia-se assim: Isto se deu no dia tal, de acordo com o calendário dos gregos, no dia tal conforme o calendário dos romanos, “para nós, porém, reinando Nosso Senhor Jesus Cristo”.
É amplamente reconhecido que, na Igreja Católica Romana, tem forte ênfase e relevância o chamado “magistério eclesiástico”. Essa instância de ensino equivale ao episcopado, em seu “magistério ordinário” ou comum em cada diocese, e no magistério solene, de todo o episcopado em conjunto e em comunhão com o bispo de Roma. Dá-se tanta ênfase ao magistério episcopal que, às vezes, deu a impressão de que pareceria estar acima da própria Bíblia ou, pelo menos, ser o único veículo da Tradição. No Concílio Vaticano II, celebrado há pouco mais de cinquenta anos atrás, para dissipar essa impressão, afirmou-se claramente que o magistério está a serviço da Palavra de Deus e é um dos canais de transmissão da Tradição. Ora, com toda essa ênfase no magistério, é importante recordar que, quando o episcopado proclama qualquer ponto de doutrina, sempre o faz como expressão do consenso da Igreja e em obediência ao “sensus fidelium”. A fórmula clássica das proclamações doutrinais é, por si mesma, luminosamente eloquente: “Nós, em adesão obediente à fé da Igreja (povo de Deus), solenemente proclamamos que a Igreja tem acreditado desta maneira”. Esta maneira de falar é claríssima: o ato mais solene e autoritativo do episcopado de toda a Igreja, em solene exercício de sua função de ensinar (magistério), é, simultaneamente, ato da mais plena obediência ao “sensus fidelium”. O que se proclama não é o ponto de vista dos bispos, mas o ponto de vista do conjunto do povo cristão, o qual guarda o “sensus fidei”, o instinto da fé.
Não é cada Igreja particular que se deve sentir autorizada a exercer o papel de definir a doutrina. As notas de unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade exigem que cada parte se sinta referida ao conjunto: “kat(a)-hólou”. Referida ao conjunto da Comunhão Anglicana e referida ao conjunto da “Gande Igreja” que se acha sob os véus do conjunto ecumênico da Cristandade (Igreja Católica Romana, Igrejas Orientais e Ortodoxas, Igrejas Protestantes e Evangélicas). Aliás, ecumenismo é um dos “princípios” básicos do Anglicanismo, aspecto constitutivo da compreensão de “unidade católica”.
Conclusão
Na verdade, enquanto Comunhão, nossas Igrejas têm de viver sob o regime de “autonomia e interdependência”. Isto exige sempre, como tem sido recomendado por nossos “Instrumentos de Unidade” (Arcebispo de Cantuária, Conferência de Lambeth, Conselho Consultivo e Encontro de Primazes), escutar-nos umas Igrejas a outras, ter paciência para aguardar os passos do conjunto, manter-se em estado de permanente consulta, orar, acolher e compartilhar experiências, colaborar na missão comum, capacitar-nos no debate teológico e, não por último, levar em conta seriamente nossos vínculos ecumênicos. Ora, tudo isto nos deveria acostumar a fazer processos em tempos mais longos, de modo a caminhar em conjunto, sem ceder à tentação de interesses imediatos, de ligações pessoais, culturais ou até de ajuda de meios, inclusive financeiros. O “sensus fidelium” não se limita a uma determinada Igreja ou a um exíguo número de províncias que se sentissem autorizadas a caminhar isoladamente, a título de suposta “profecia”. Como, em nosso retiro espiritual, nos dizia e repetia enfaticamente aos bispos em Cantuária o Arcebispo Rowan Williams, “discípulo(a) sozinho(a) não é discípulo(a)”. Apartar-se da Comunhão é heresia ou cisma. São questões tão sérias que tocam a consciência de inumeráveis fiéis no mundo todo, alguns sendo até levados a gestos de “ruptura por motivos de consciência”. E o que é ainda mais triste é ouvir de autoridades da Igreja que mais clérigos(as) também estariam inclinados a manifestar sua discordância, não fosse a dependência financeira em que se acham frente a seus bispos nas paróquias, isto dito como a coisa mais normal do mundo, sem se perceber que se trata do escândalo de consciências atadas em sua liberdade pelo econômico… e isto no espaço que deveria ser, por excelência, o espaço da liberdade: “Foi para a liberdade que Cristo nos libertou; permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão” (Gl 5, 1). O resultado que temos experimentado é o arrefecimento do senso de comunhão e unidade, cedendo ao “espírito do século”, de fragmentação, de afirmação individual, de imposição dos próprios modelos culturais, finalmente, de intolerância e autoritarismo, típicos desta era do mundo, nesta viragem da civilização. Não é lícito alegar que a “Igreja” (quem é a Igreja, senão “o povo da Igreja”?) tem de “avançar”, mesmo afastando-se de seu povo e provocando divisões em seu tecido. Chega-se a alegar que o povo não compreende e não sabe interpretar devidamente a Bíblia, que é conservador e até fundamentalista. Se fosse verdade que o povo seria “ignorante”, quem é responsável por tê-lo deixado nessa condição? Como quer que seja, mesmo necessárias ou convenientes reformulações do “depósito da fé” não podem estar entregues a “indivíduos iluminados”, mesmo que sejam bispos, nem a grupos que se julgam elite na Igreja, nem mesmo a Igrejas particulares, mas só se dão autenticamente na medida em que amadurecem, pacientemente, como resultado do concurso de todo o conjunto do povo de Deus e em tempos longos da Igreja universal.